Postagem atualizada em 16/12/2022 às 11h11

O SINASEFE realizou no sábado (03/10), virtualmente, o seu 1º Encontro de Negras, Negros e Indígenas (ENNI). A comunidade negra e indígena do sindicato, com representantes de 24 seções sindicais e uma dúzia de convidadas e convidados, debateu temas como o genocídio e o racismo enfrentados diariamente. Para fechar animadamente o evento, a musicalidade de Luana Karoo contagiou a todas e todos.
Genocídio do povo preto e indígena
O início dos trabalhos do ENNI se deu com o debate do genocídio do povo preto e indígena. Com a mediação de Felipe Oliver, secretário de Combate às Opressões do SINASEFE, e as exposições de Edson Kayapó, Gabriella Vicente e Marcos Canetta.
Felipe Oliver iniciou os trabalhos destacando a alegria da Coordenação de Combate às Opressões com a realização do evento. Ele também agradeceu aos convidados, aos trabalhadores do SINASEFE e aos tradutores-intépretes de Libras pelo empenho na organização e realização. Ele comentou ainda sobre a construção do Manifesto em apoio às cotas raciais na UEPB.
Edson Kayapó parabenizou o SINASEFE pela realização do evento e por dar destaque para uma temática tão necessária. “A sociedade brasileira, as instituições e o estado brasileiro têm poucas ou talvez nenhuma informação sobre quem são os indígenas, onde estão, quantas línguas falam e quantos povos existem. E eu estou falando do presente, da contemporaneidade. Em geral, quando se fala em passado se usa o marco de 1.500, o que foi ontem, levando em conta que indígenas já estão aqui há mais de seis mil anos” destacou o professor e historiador.
“É muito importante empunharmos esta bandeira de luta, em especial nesta conjuntura fascista, quando a maior bancada do congresso é aquela conhecida como BBB, ou seja, bala, boi e bíblia, uma bancada declaradamente anti-indígena. Lembrando que semana passada o presidente foi à ONU acusar indígenas de colocar fogo nas matas” ressalta Edson.
Ao comentar a atual pandemia, ele cita as epidemias programadas, abordadas no livro do antropólogo Mércio Gomes: Os índios e o Brasil. “Epidemias programadas são históricas, os portugueses contaminaram objetos e os deram de presente aos indígenas. Os colonizadores não tiveram nenhum pudor de se apossar de conhecimentos sobre a etiologia das doenças e promover as primeiras guerras bacteriológicas”.
“É necessário repensar as relações humanas no planeta e os povos indígenas têm disposição pra fazer esse debate. Nós vamos insistir batendo às portas dos sindicatos, das escolas, das instituições e do estado por que nós queremos unidade na resistência, para construir outro mundo. Queremos o diálogo, mas se as portas não forem abertas teremos que fazer isso na marra“, enfatiza Kayapó.
Trazendo a perspectiva da saúde pública para o debate, Gabriella Vicente comentou o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS), datado de 1947, que define a saúde não apenas como ausência de doenças. “Quando a gente pensa que o bem-estar é uma expressão da saúde e ele é negado diariamente à população negra isso é uma estratégia genocida” defende a sanitarista e escritora.
“Sabemos bem de onde vem toda construção genocida e sabemos que isso não é uma novidade. Entretanto, quando olhamos com olhar da epidemiologia temos informações importantes. A epidemiologia se propõe a olhar os dados e propor ações para atender a critérios como a universalidade prevista no SUS, por exemplo, buscando atender as populações que precisam mais“, explica Gabriella.
“Uma das consequências da invasão e da diáspora foi a não permissão de encontrar da espiritualidade o remédio para nossas dores, fomos proibidos na perspectiva da nossa espiritualidade ancestral e na perspectiva do cristianismo. Jesus Cristo é colocado como um homem branco e historicamente sabemos que ele era preto. Fomos impedidas de conectar com esse grau de reflexão, de se enxergar no deus do cristianismo” refletiu Gabriella.

Traçando um paralelo entre as vozes de Gabriela e Edson, Marcos Canetta comentou a desconstrução histórica do outro enquanto ser social, em especial no que se refere aos indígenas e aos negros. “O genocídio do povo negro e indígena no Brasil não aconteceu e não acontece por acaso, os formatos e os planejamentos ainda são muito parecidos com a chegada dos portugueses. Essa construção histórica, mental, cognitiva e de cosmovisão é que mantém esse mesmo conceito de ser negro, ser preto e ser indígena em sociedade“, comenta Marcos.
Ele citou sua obra: “Lei Áurea: a abolição inacabada?!” para destacar que todas as imagens colocadas no processo pós-abolição trazem a figura do escravizado como homem. “Parece que pensar em outros corpos e pessoas, como escravizadas: mulheres, idosos, crianças, pessoas que portam necessidades especiais, é algo quase surreal. Para uma sociedade que ainda mantém os mesmos privilégios de branquitude, fazer um indivíduo entender que a escravidão foi basicamente sobre corpos de homens é muito mais fácil num país machista”, comenta o historiador e pós-graduado em Direitos Humanos.
“Se nós não sairmos do debate acadêmico e não formos para dentro das comunidades, organizá-las, fazendo nossos representantes nas esferas de poder, nós vamos passar mais algumas décadas reclamando. As políticas públicas não vão descer, elas não são políticas, são práticas eurocêntricas. Deixo aqui o meu clamor, pedindo para que as universidades, em especial em seus programas de extensão, avancem seus muros e saiam para debater as grandes transformações. Precisamos de prática, de colocar na prática todo saber acumulado, devemos ir além do livro, do texto, e do artigo científico, o que só vai acontecer indo para as comunidades e para as entidades”, finalizou Canetta.
Ao final das exposições, Edson respondeu rapidamente uma pergunta sobre a relação entre jesuítas e indígenas. Todo o debate está disponível no vídeo a seguir:
Genocídio do povo preto e questões étnico-raciais
O segundo momento do ENNI pautou o genocídio do povo negro e questões raciais. Com a mediação de Evaldo Gonçalves, o tema foi debatido com a participação de Amauri Queiroz e Jorge Arruda.
Amauri iniciou comentando a necropolítica e alguns indicadores. “Em vinte anos morreram de forma violenta mais de um milhão de negros, qual município brasileiro tem essa população? Por aí temos ideia da chacina, do genocídio. Genocídio de quem? Não tem nome, como isso acontece?” questiona Amauri.
A lei que torna obrigatório o estudo da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” (Lei n º 10.639/2003) também foi comentada pelo convidado. “É uma lei que parte do movimento negro conhece, mas que, de uma maneira geral, as escolas nem conhecem. Temos feito palestras com várias escolas por que vários professores e servidores desconhecem essa lei, é importante levar esse tema adiante” defende Amauri.
Com o objetivo de pensar em ações contra o genocídio, ele comentou conceitos de autores como Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Achille Mbembe e Jones Manoel.
“Precisamos ter um censo, saber onde estão os negros na Rede Federal de Educação, quais cargos que ocupam, se são diretores, se são chefes de departamento. Certamente teremos a constatação do que nós sabemos, que não passa de 10% a ocupação de cargos de chefia por negros. No entanto, para cobrar precisamos de indicadores, por isso é importante lutar por este censo. Deveria existir um mapa da assimetria racista, atualizado anualmente”, defende o jornalista e técnico-administrativo.

Vindo de águas “freirianas e umbandianas” Jorge Arruda iniciou sua exposição com saudações religiosas. Ele comentou a importância do respeito à pessoa humana, e sua dimensão étnico-racial, no espaço escolar. “Todo dia acontece um ‘genocídio pedagógico’ em nosso país, pois enquanto nós negros não nos afirmamos como doutor em alguma coisa não somos respeitados”, comenta Jorge.
“Percebo que a gente precisa cada vez mais de formação continuada para realmente efetivar uma educação libertadora e assim assegurar a permanência de negras e negros nas escolas“, defende o escritor e sacerdote. Comentando as legislações que tratam do ensino de questões étnico-raciais (leis nº 9.394/1996, 10.639/2003 e 11.645/2008), Jorge destaca que o MEC não tem feito nada para garantir o direito das crianças. “Poderíamos mostrar vários dados, e a prática é ainda, infelizmente, incontestável: recentemente uma gestora capacitada não foi nomeada na instituição em que trabalho por ser da Umbanda”, destaca Arruda.
Ele comentou ainda casos de crianças que enfrentam desde cedo o racismo no ambiente escolar: “O Brasil é racista sim, e estamos no contraponto cotidiano, querendo ajudar crianças, jovens e adolescentes das escolas públicas e particulares”, registrou Jorge. “Atendemos no núcleo de pesquisa afro um aluno negro, o único de sua turma no curso de Direito, ele relatou ouvir insultos racistas e coisas do tipo: aqui não é seu lugar, você deveria estar no curso de culinária, de gastronomia. Infelizmente crianças, adolescentes e jovens tem morrido, em suas subjetividades, nas salas de aula” lamentou o palestrante.
Ao final do debate os participantes responderam perguntas sobre: a chacina de jovens com mais de 111 tiros no Rio de Janeiro, a presença negra nas candidaturas em 2020 e sobre o comunismo ser uma resposta eurocêntrica que não atenderia à população negra.
Apresentando sugestões de leitura, Evaldo citou a escritora Bel Hooks, que publicou a obra “Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade“. Ele explicou que a obra, que dialoga com Paulo Freire, chegou ao Brasil há pouco tempo, trazendo importantes contribuições sobre a temática. O mediador citou também o historiador do Rio de Janeiro Luiz Antonio Simas, e o livro “Fogo no Mato. A Ciência Encantada das Macumbas“. Ele fez a leitura de um trecho em que Simas destaca a relevância dos terreiros como espaços de elaboração: “Se a intelectualidade quer mudar o Brasil precisa olhar para o terreiro, ali estão as soluções mais contundentes para criar a nossa grande aventura da terra sem males” destacou Evaldo. “Se palmares não vive mais, faremos Palmares de novo!” finalizou Evaldo, citando o conhecido mote do poeta José Carlos Limeira.
A íntegra dos debates desta mesa pode ser conferida abaixo:
Roda de conversa: racismo nos locais de trabalho
O terceiro momento do ENNI foi reservado, dedicado ao diálogo entre participantes. Utilizando o aplicativo Zoom, as pessoas inscritas e os convidados conversaram sobre o enfrentamento do racismo em seus locais de trabalho. O momento fortaleceu a troca de experiências, desabafos e relatos pessoais.
Para estimular o debate, Eduardo Rosa e Roberto Adão fizeram breves exposições, passando pela luta de negras e negros contra o racismo institucionalizado nos locais de trabalho.
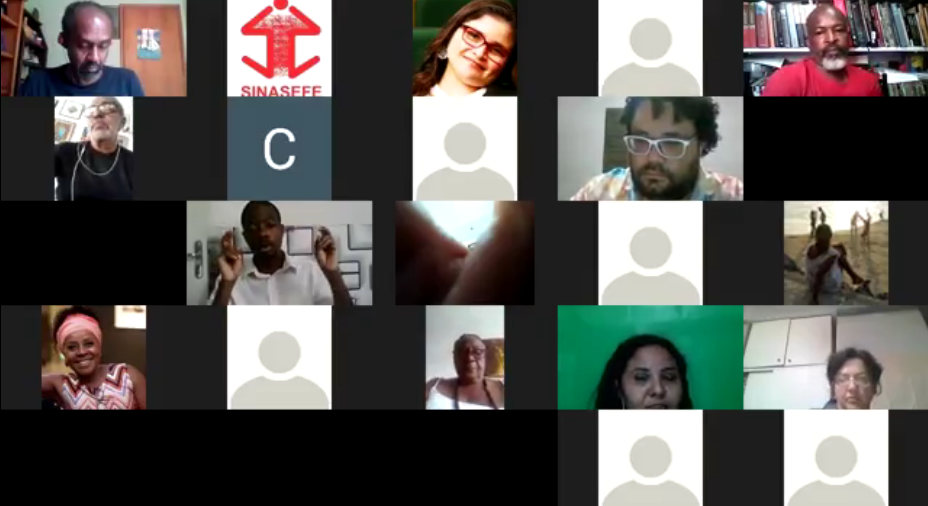

Mulheres pretas e indígenas: conquistas, preconceitos e perspectivas
Saudando as convidadas e agradecendo à equipe de trabalhadoras e trabalhadores do SINASEFE pela organização do ENNI, Sônia Adão, secretária-adjunta de Combate às Opressões, mediou a última mesa de debates do evento. Esta etapa da atividade contou com a participação de Luciene Tavares, Monica Ferreira, Sandra Benites e Nádia Farias
Iniciando sua exposição alegremente com uma canção, Luciene Tavares explicou que falava diretamente da Paraíba, da comunidade quilombola Caiana dos Crioulos, em Alagoa Grande-PB. “Aqui na Paraíba nós temos 42 comunidades quilombolas, 39 já foram reconhecidas pela Fundação Palmares. Nós somos o maior território quilombola do estado e trabalhamos muito pela valorização, pertencimento e preservação de todas manifestações culturais: o coco de roda, o maculelê, a ciranda” explica Luciene.
“Fomos ‘ensinadas’, principalmente no ambiente escolar, o conhecimento da história do outro, mas nos foi negado o conhecimento da nossa própria história e é por isso que viemos lutando para reverter isso” comenta a quilombola e professora. Ela também citou a aprovação da Lei n º 10.639/2003, que classificou como um marco ao trazer a obrigatoriedade de abordar na escola as histórias não contadas, as relações étnico-raciais e a miscigenação.
“Gostaria de enfatizar o surgimento, durante a Conferência Nacional da Educação, em 2010, da modalidade da educação escolar quilombola, que vem ressignificar toda uma pauta, desde o currículo, os materiais e a formação dos professores. Era preciso tratar das especificidades do nosso povo, historicamente invisibilizado” comenta Luciene. Ela prosseguiu comentando a experiência escolar de seu território quilombola. “É fundamental, para qualquer setor, ouvir a comunidade, em especial nos casos de profissionais que não estão inseridos nos territórios. É a partir do diálogo e da escuta que podemos compreender a realidade dos estudantes”, destaca.
“Todos juntos no amor, valorizando etnia e cor, nosso Brasil tão mestiço, tornou-se um país tão bonito!” encerrou cantando a professora quilombola.

Comentando sobre as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), sua área de atuação, Mônica Ferreira explicou que essas práticas resgatam saberes e medicinas tradicionais. “São práticas que durante muito tempo ficaram alijadas da nossa rotina, com o desenvolvimento da medicina foram colocadas como práticas ‘menores’ por não terem a ‘chancela’ científica”, explicou a terapeuta e educadora.
“Hoje o número de terapeutas negras ainda é bem pequeno quando falamos de terapeutas das PICS, enquanto que na área da psicologia já existe algum avanço neste aspecto. Boa parte dos conhecimentos abordados nas práticas integrativas esteve inacessível para as mulheres negras. Em 2006 isso começou a mudar com a inclusão das PICS no SUS como práticas essenciais à saúde. Mas a maior parte das terapias ainda são oferecidas em espaços privados e que ficam distantes da população negra” explica Mônica.
Defendendo que a população negra tem especificidades também no campo da saúde, Mônica destaca a necessidade de refletir sobre estas diferenças. “As violências que atravessam o corpo preto geram doenças diferentes dos não-negros. Assim como temos espaços para pensar a educação da população negra, nós também precisamos pensar na saúde da população negra a partir do campo emocional, não apenas na perspectiva física”, defende.
“Sejamos mães, irmãs e filhas umas das outras. Eu não preciso pensar igual à minha irmã que está aqui na live pra ama-la, e para escutá-la. Ela escolheu um caminho, eu escolhi outro, profissionalmente, mas isso não significa que não possamos caminhar juntas na cura da população negra. Lutar contra o predador externo, que vem do racismo, já é muito pesado. Vamos buscar a ciência como campo de cura, não como ampliação da dor e do sofrimento”, reflete Mônica. “Temos de semear mais amor e menos dor, o amor é curador e amar não me tira da luta, olhar para o outro como diferente e respeitar isso não me tira da luta”, conclui a terapeuta.
“O tempo todo querem nos vestir uma roupa que não é nossa, e nos tiram a nossa ‘roupa’, a nossa própria pele, para colocar outra que não somos nós. E a gente resiste, resiste, resiste. E de tanto resistir acabamos por adoecer, numa explosão de desequilíbrio” iniciou Sandra Benites.
Comentando a sobrecarga emocional da maternidade, Sandra lembrou que o ‘colo da mãe’ sempre foi compreendido como algo central na vida e no bem-estar do mundo. “Na compreensão espiritual indígena temos a imagem de mãe (Nhandesy Ete) e pai (Nhanderu Ete), mas quando cheguei na cidade só se fala de deus, mas cadê a deusa? Não existe?” questionou a indígena e mestra em Antropologia Social.
Destacando que muitos pesquisadores buscam ouvir apenas indígenas homens em seus trabalhos, ela comentou sua dissertação onde aborda a importância da narrativa das mulheres. “As próprias mulheres precisam falar sobre si, nós Guaranis temos esse respeito entre nós. Não existe uma única versão, depende da trajetória de cada pessoa, o que também tem a ver com a escuta do outro que praticamos” explicou Sandra.
“É preciso colocar em prática tudo que já sabemos. Temos que lutar muito ainda para que tenhamos de fato autonomia, para sonhar como nosso mundo, com nosso modo de educar e de viver”, finalizou Sandra.
Saudando as mulheres ancestrais (avós e mães) e a comunidade acadêmica do Rio Grande do Norte, Nádia Farias começou sua fala destacando a luta das mulheres desde o ventre materno. “Lutamos pelas nossas vidas e pela existência da vida dos nossos. Nossa luta é muito importante por que lutamos por todos: pelo direito de existir, de continuar vivos, de ter uma educação de qualidade. Falo do espaço acadêmico, e acho muito importante dizer que sou uma mulher periférica, nordestina”, comenta Nádia.
“Para a branquitude é um atrevimento sermos inteligentes. Nós somos inteligentes e intelectuais, produzimos saberes e ciência,no entanto, dentro da escola e da sociedade nos colocam ainda num patamar de inferioridade e desqualificam nossas pesquisas“, denuncia a pedagoga. “Não sou uma mulher negra consciente há tanto tempo, nasci numa sociedade que me negou minha história, numa escola que me negava, somente no mestrado que isso mudou” destaca.
Nádia finaliza comentando que negras, negros e indígenas devem sim estar em todos os espaços de decisão e poder, e que isto não é um privilégio, é um direito. “A gente que consegue chegar precisa ajudar os outros a chegar de alguma forma, e é nesta perspectiva que faço meu trabalho e militância, às vezes sozinha, e muitas vezes com os Neabis e outros núcleos. Sozinhas podemos muitas coisas, mas de mãos dadas com as nossas irmãs e irmãos vamos conseguir muito mais e oportunizar a chegada daqueles que deveriam estar nestes espaços já que somos mais de 50% da população”, conclui Nádia.
A mesa completa pode ser assistida abaixo:
Live cultural com Luana Karoo
O encerramento do ENNI ficou por conta de Luana Karoo. A artista mexeu com o público, espalhando musicalidade e registrando sua presença forte e indescritível. Assista a apresentação completa de Luana e confira:







